Jesus Histórico: O Mito nos Evangelhos, Uma Jornada Comparativa Entre Textos Canônicos e Apócrifos
 |
| 📷Imagem Ilustrativa © Reprodução |
Artigo de Walter Fontenele (Graduado Antropologia -UESPI).
Resumo
Este artigo é um convite para desvendarmos juntos a presença e o papel dos mitos nos Evangelhos, tanto naqueles que conhecemos bem (os canônicos do Novo Testamento) quanto nos menos explorados (os apócrifos, como os Evangelhos de Tomé, Filipe e Judas). Guiados por pensadores como Mircea Eliade, Elaine Pagels, Joseph Campbell, Crossan, Chevitarese e outros, vamos investigar como essas histórias míticas funcionam como chaves para a revelação, para a contestação de ideias e para a formação da identidade cristã. Nossa jornada reconhecerá o mito como uma linguagem sagrada, um símbolo de verdades profundas, e nos ajudará a situar essas narrativas no rico e diversificado cenário do cristianismo dos primeiros séculos.
Palavras-chave: Evangelhos apócrifos, mito, cristianismo primitivo.
1. Introdução
A palavra "mito" vem do grego "mythos" que inicialmente significava narrativa ou discurso. Só mais tarde é que ganhou a conotação de ficção ou invenção. No fascinante universo das ciências da religião, da história, da antropologia e da literatura, o mito é muito mais do que uma simples história; é uma forma poderosa de expressar as grandes perguntas da humanidade: de onde viemos, qual o sentido da vida, o que está além de nós.
No contexto cristão, a análise mítica das histórias dos Evangelhos costuma gerar debates acalorados. Enquanto partes dos Evangelhos Canônicos são vistas como relatos histórico-teológicos da vida de Jesus, os Evangelhos Apócrifos - aqueles considerados "escondidos" pelas autoridades cristãs - mergulham em um universo que flerta com o esoterismo, a gnose (um tipo de conhecimento espiritual profundo) e até mesmo teologias alternativas.
Desde o século II, a rica coletânea de textos atribuídos a discípulos e seguidores de Jesus começou a ser organizado entre o que seria Canônico (reconhecido) ou Apócrifo. Essa coleção de escritos é um verdadeiro tesouro de pensamentos teológicos, beleza literária e elementos míticos, refletindo a enorme diversidade do cristianismo primitivo. A presença do mito nesses textos não se limita a um mero enredo narrativo; ele age como a expressão simbólica de revelações profundas, muitas vezes ligadas à espiritualidade gnóstica.
Ao longo dos séculos, a figura de Jesus foi revisitada sob inúmeros enfoques: histórico, teológico, filosófico e místico. Um dos caminhos mais ricos - e também mais debatidos - é aquele que o enxerga como um "herói mítico" ou uma "divindade", inserindo-o em estruturas narrativas que se repetem em diversas culturas. Joseph Campbell, ao identificar o "monomito" ou a "jornada do herói", percebeu que grandes figuras religiosas e fundadoras seguem padrões semelhantes: um nascimento extraordinário, provações, quedas, redenção e um triunfo transcendente (Campbell, 1990). Como ele mesmo descreve:
"Em todo o mundo habitado, em todas as épocas e sob todas as circunstâncias, os mitos humanos têm florescido; da mesma forma, esses mitos têm sido a viva inspiração de todos os demais produtos possíveis das atividades do corpo e da mente humanos. Não seria demais considerar o mito a abertura secreta através da qual as inexauríveis energias do cosmos penetram nas manifestações culturais humanas. As religiões, filosofias, artes, formas sociais do homem primitivo e histórico, descobertas fundamentais da ciência e da tecnologia e os próprios sonhos que nos povoam o sono surgem do círculo básico e mágico do mito." (Campbell, 1997, p. 6).
Campbell nos mostra a onipresença e a força vital dos mitos em todas as culturas e épocas. Para ele, mitos não são apenas contos antigos, mas a fonte primária e a inspiração de todas as criações humanas - desde a arte e a filosofia até as descobertas científicas e nossos sonhos mais íntimos. É como se o mito fosse um portal misterioso, uma "abertura secreta", por onde as vastas energias do universo se manifestam em nossas vidas e culturas.
Nas últimas décadas, ganhou espaço a tese do mito de Jesus (Jesus Myth Theory), que propõe que Jesus não foi uma figura histórica real, mas sim uma construção mitológica criada para fundar o Cristianismo. Essa teoria sugere que a figura de Jesus teria sido criada a partir de profecias do Antigo Testamento, textos gnósticos e mitos pagãos. Joseph Atwill, em "Caesar’s Messiah" (2005), argumenta que os Evangelhos teriam sido escritos por um grupo ligado aos imperadores flavianos (Vespasiano, Tito e Domiciano) com o objetivo de controlar o judaísmo radical após a revolta judaica (66-73 D.C.), promovendo um "Messias" pacificador, evitando assim novas rebeliões.
Embora instigante, a teoria de Atwill é vista como marginal pela grande maioria dos historiadores, antropólogos e arqueólogos, que aceitam a existência de um Jesus histórico, ainda que desconsiderem os prodígios e milagres que lhe são atribuídos nos Evangelhos.
Desde a Antiguidade, o mito tem sido associado a narrativas fundadoras, aquelas que explicam os aspectos essenciais da nossa existência e do universo. Presentes em diversas culturas, elas oferecem explicações sobre a origem do mundo, dos deuses, da humanidade, da natureza e das instituições sociais. Em sociedades tradicionais, o mito não era apenas uma história; era uma verdade sagrada, cheia de significado, transmitida de geração em geração, guiando práticas e comportamentos. Como destaca Mircea Eliade (2001), o mito é sempre a história de um acontecimento primordial, ocorrido no início dos tempos, cuja repetição em rituais dá sentido ao presente.
No entanto, com a chegada da modernidade e o domínio da racionalidade científica, o termo mito ganhou um tom negativo, tornando-se sinônimo de ilusão, mentira ou crença sem fundamento, contrastado com a verdade da ciência. Essa mudança reflete uma visão positivista que tende a desqualificar discursos simbólicos e religiosos como formas primitivas de conhecimento. Por muito tempo, os mitos foram relegados ao folclore, perdendo seu lugar como forma válida de conhecimento no mundo ocidental.
Contudo, em áreas como as ciências da religião, teologia, história, filosofia e antropologia, o mito tem sido resgatado como uma linguagem essencial da experiência humana, especialmente no que diz respeito ao sagrado. Autores como Paul Tillich (1972) enfatizam que o mito, longe de ser uma mera invenção, expressa realidades profunda que a linguagem comum não consegue alcançar. Ele é uma forma simbólica pela qual o ser humano compreende sua finitude, a dimensão divina e os mistérios da existência. Ou seja, o mito não é uma falsidade, mas uma verdade simbólica, que se revela em narrativas carregadas de sentido existencial.
Além disso, Claude Lévi-Strauss (1989), ao estudar as mitologias ameríndias, mostrou que o mito opera com uma lógica própria, buscando resolver contradições fundamentais da experiência humana através de estruturas narrativas. Em sua abordagem estruturalista, o mito revela as categorias cognitivas que organizam o pensamento humano, sendo, portanto, uma chave para entender as culturas. Na perspectiva fenomenológica, como em Rudolf Otto (1992, p. 234), “o mito é inseparável da manifestação do numinoso, o mistério que nos amedronta e fascina na experiência religiosa”.
Desse modo, longe de ser uma relíquia do passado, o mito continua a ter um papel fundamental na construção de sentido e na conexão entre o humano e o transcendente. Ele vai além dos limites da razão instrumental, abrindo-se à linguagem simbólica, poética e ritual, por meio da qual os povos expressam suas intuições mais profundas sobre o mundo, o divino e a própria condição humana.
Este artigo será dividido da seguinte forma:
Capítulo 1: Apresenta uma introdução teórica ao conceito de mito, com base em autores clássicos e contemporâneos que se dedicaram ao estudo da temática. Em seguida, são delineados os pressupostos metodológicos que orientam a pesquisa;
Capítulo 2: Realiza-se uma análise das passagens de caráter mítico presentes nos Evangelhos canônicos e apócrifos, interpretadas à luz das ciências da religião, da história, da antropologia e da arqueologia com o respaldo de autores tanto da Antiguidade quanto da modernidade;
Capítulo 3: Apresenta-se a síntese dos resultados e as considerações finais da pesquisa, destacando as implicações teóricas e os desdobramentos possíveis para investigações futuras.
1.1. Abordagem Metodologica
Para este estudo, escolhemos uma abordagem qualitativa, focada na análise profunda de textos e seus símbolos, tanto nos Evangelhos canônicos quanto nos apócrifos, sempre sob a ótica do mito. Essa escolha se justifica pela complexidade do tema: para entender os Evangelhos, precisamos ir além da mera análise histórica ou factual, buscando capturar os significados simbólicos, religiosos e culturais que permeiam esses textos.
Partimos do princípio de que os Evangelhos não são apenas registros de fatos, mas também documentos teológicos e literários, criados em contextos específicos e usando uma linguagem rica em elementos míticos e simbólicos. Assim, nossa pesquisa busca interpretar esses elementos com base em uma hermenêutica simbólica, apoiando-se em grandes nomes como Mircea Eliade, Rudolf Bultmann, Joseph Campbell, Claude Lévi-Strauss, Carl Jung, e outros.
Nosso corpus principal inclui passagens dos Evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos e João, além de textos apócrifos como o Protoevangelho de Tiago, o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Filipe. Escolhemos esses textos por sua relação direta com as origens de Jesus e por expressarem, de forma clara, recursos literários e teológicos ligados à construção mítica.
É importante ressaltar que nossa metodologia não visa verificar a "verdade" histórica dos acontecimentos narrados, mas sim compreender a função que essas histórias desempenham na construção da fé cristã e na formação do imaginário religioso ocidental. Nossa pesquisa é, portanto, interpretativa e interdisciplinar, dialogando com a teologia, a história das religiões, a antropologia, a arqueologia e a literatura.
Por fim, nossa análise será guiada por uma postura crítica e reflexiva, que valoriza a riqueza cultural e espiritual das tradições religiosas, mas busca interpretá-las com rigor acadêmico, evitando leituras simplistas, apologéticas (de defesa da fé) ou estritamente literalistas.
2. MITOS NOS EVANGELHOS
2.1. Evangelhos Canônicos
Os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que formam o cânon cristão, foram escritos entre 65 e 100 D.C., em diferentes contextos e para públicos diversos. Embora seu principal objetivo seja narrar à vida, morte e ressurreição de Jesus, um olhar mais atento, através da crítica literária e teológica, revela uma série de elementos simbólicos que vão muito além da simples narração de fatos. Dentre esses elementos, destacam-se:
· A Concepção Virginal de Jesus (Mateus 1:18-25; Lucas 1:26-38).
A ideia de um ser divino nascido de uma virgem é um tema recorrente em mitologias antigas, presente em figuras como Hórus (Egito), Mitra (Pérsia), Krishna (Índia) e Rômulo (Roma). Nos Evangelhos, o nascimento virginal de Jesus por Maria não é uma prova histórica, mas uma forma de afirmar sua origem divina, expressando a ideia de que Jesus não vem da vontade humana, mas de um plano transcendente de Deus.
Mircea Eliade (2001, p. 11) nos lembra de que "o mito narra uma história sagrada, ocorrida num tempo primordial, no início de todas as coisas." O nascimento virginal de Jesus, portanto, não foca em um dado biológico, mas na revelação de sua identidade como Filho de Deus, nascido do Espírito Santo. Paul Tillich (2005, p. 123) observa que o simbolismo por trás do nascimento de uma virgem aponta para a origem sobrenatural do Logos encarnado: "não se trata de uma doutrina biológica, mas de uma expressão simbólica da nova criação em Cristo".
Essa narrativa, portanto, busca afirmar teologicamente que Jesus inaugura um novo começo na história humana - como o novo Adão (cf. 1 Coríntios 15:45) -, cuja chegada rompe com as leis naturais e abre caminho para a salvação.
· A Tentação de Jesus no Deserto (Mateus 4:1-11; Lucas 4:1-13).
A história das tentações de Jesus é um drama simbólico com forte caráter mitológico. O deserto, o jejum de quarenta dias, a figura do diabo e os desafios propostos são parte de uma construção literária que evoca elementos arquetípicos presentes em muitas tradições religiosas. Essa estrutura não descreve uma experiência observável, mas uma dramatização da identidade messiânica de Jesus e do tipo de messianismo que ele escolheria.
Claude Lévi-Strauss (2008) nos ensina que o mito é uma estrutura de pensamento que organiza contradições e oferece soluções simbólicas para tensões culturais. Neste caso, a tentação representa a tensão entre um messianismo de poder (baseado em milagres e prestígio) e a missão de servo sofredor proposta por Jesus. Ao rejeitar as tentações, Jesus emerge como o novo Israel, que triunfa onde o antigo falhou (cf. Deuteronômio 8:2-3).
John Dominic Crossan (2009) interpreta essa narrativa como um "midrash" dramático, que tece elementos do Antigo Testamento para afirmar a superioridade ética e espiritual de Jesus. O diabo, aqui, representa as forças que desviariam o Messias de seu verdadeiro caminho: fidelidade, serviço e entrega. Assim, a narrativa funciona como um mito de identidade e legitimidade.
· A Transfiguração de Jesus (Mateus 17:1-9; Marcos 9:2-10; Lucas 9:28-36).
O episódio da transfiguração é uma cena teofânica clássica, onde o personagem central é envolto em luz, acompanhado por figuras do passado (Moisés e Elias) e legitimado por uma voz divina. Cenas assim são comuns em mitologias e tradições apocalípticas - como a ascensão de Enoque ou a experiência de Elias sendo levado ao céu. Na transfiguração, temos uma antecipação simbólica da ressurreição e uma confirmação da autoridade de Jesus como o Filho amado.
Para Eliade (2001), as teofanias são as formas pelas quais o sagrado irrompe no mundo comum e revela seu sentido último. No topo da montanha, Jesus aparece como uma figura luminosa - a expressão da presença divina - em diálogo com Moisés (a Lei) e Elias (os Profetas), simbolizando que nele se cumpre toda a revelação judaica. A nuvem e a voz do céu remetem diretamente às teofanias do Antigo Testamento, como no Sinai (Êxodo 19).
Crossan (2009) vê essa cena como uma construção teológica posterior, que retoma temas apocalípticos para fortalecer a fé da comunidade cristã na divindade e glorificação de Jesus. Nesse sentido, o mito da transfiguração age como uma antecipação ritual do triunfo final da Páscoa.
· A Ressurreição (Mateus 28; Marcos 16; Lucas 24; João 20).
A ressurreição de Jesus não é contada de forma idêntica nos Evangelhos; cada autor apresenta uma narrativa única. Mateus relata um terremoto e a aparição de um anjo; Marcos, em sua versão mais antiga, termina abruptamente com o túmulo vazio e mulheres amedrontadas; Lucas adiciona encontros com os discípulos e o famoso episódio dos discípulos de Emaús; João descreve aparições detalhadas com diálogos e reconhecimentos progressivos.
Apesar das diferenças, há uma estrutura que se repete: o túmulo vazio, a ausência do corpo, aparições inesperadas, a dificuldade de reconhecimento e o envio dos discípulos. Esses elementos revelam uma construção literária com forte carga simbólica.
Para Mircea Eliade (2001), os mitos de morte e renascimento são essenciais em religiões agrárias e solares - símbolos do eterno retorno e da renovação da vida. A ressurreição de Jesus se encaixa nesse padrão simbólico universal: é a superação da morte e do caos pela força criadora do sagrado. Como Eliade escreve: "A ressurreição atualiza o mito da renovação cósmica: a vida é restaurada, o tempo é reiniciado" (Eliade, 2001, p. 98).
Claude Lévi-Strauss (2008) vê o mito como uma estrutura narrativa capaz de reconciliar contradições fundamentais, como a oposição entre morte e vida. A ressurreição de Jesus funciona exatamente assim: resolve o paradoxo da morte do justo e inverte a lógica da violência sacrificial, inaugurando um novo horizonte de sentido.
John Dominic Crossan (2009) argumenta que os relatos pascais são interpretações teológicas posteriores, formuladas em linguagem visionária e simbólica para comunicar a fé da comunidade. Para ele, "a ressurreição não é um fato histórico documentável, mas uma afirmação teológica: Deus não abandonou Jesus à corrupção, mas o exaltou como justo" (Crossan, 2009, p. 211).
Por sua vez, André Leonardo Chevitarese (2010) destaca que os relatos da ressurreição misturam tradições orais, experiências litúrgicas e construções narrativas simbólicas. O corpo ressuscitado aparece e desaparece, atravessa paredes, não é imediatamente reconhecido, o que sugere uma corporeidade fora dos parâmetros físicos convencionais - a expressão de uma realidade espiritual, e não de uma simples reanimação física.
Destarte, a ressurreição não se apresenta como um evento empírico, mas como um mito fundacional, que comunica a vitória definitiva da vida sobre a morte e legitima a fé na continuidade do Cristo vivo junto à comunidade.
· A Ascensão de Jesus (Lucas 24:50-53; Atos 1:9-11).
A história da ascensão aparece de forma resumida em Lucas (24:50-53) e mais detalhada em Atos (1:9-11). Jesus leva os discípulos até Betânia, os abençoa e é elevado ao céu, enquanto uma nuvem o encobre. Dois "homens vestidos de branco" (geralmente interpretados como anjos) anunciam que ele retornará da mesma forma. Este momento marca o fim da presença física de Jesus e o início do tempo da Igreja.
A ascensão não é apenas uma despedida; é um rito de passagem que consagra Jesus como o Senhor glorificado. O movimento vertical - subir aos céus - carrega uma forte carga simbólica. Mircea Eliade (2001) observa que a ascensão é uma estrutura típica das religiões antigas, onde figuras sagradas transcendem o plano terrestre para se unirem ao divino. Exemplos disso são as tradições de Enoque (Gênesis 5:24) e Elias (2º Livro de Reis 2:11), ambos levados por Deus ao céu.
Paul Tillich (2005) interpreta a ascensão como um símbolo da universalidade da presença de Cristo. A elevação física é apenas uma metáfora da elevação espiritual: "Cristo transcende o tempo e o espaço; sua ascensão significa que sua realidade já não está limitada à geografia, mas é ontologicamente acessível a todos" (Tillich, 2005, p. 208).
A nuvem que encobre Jesus remete às teofanias do Antigo Testamento, onde a nuvem representa a manifestação do sagrado. Chevitarese (2010) aponta que a linguagem da ascensão ecoa modelos literários apocalípticos e visa consolidar, teologicamente, a autoridade escatológica de Jesus: ele é agora o Kyrios (Senhor), à direita de Deus.
Como um mito de entronização, a ascensão comunica que Jesus, tendo vencido a morte, foi elevado ao lugar de honra e reinará até o fim dos tempos. A narrativa, portanto, tem uma função legitimadora e escatológica, preparando a comunidade para a missão e para a expectativa da parusia (a segunda vinda de Jesus).
A presença desses componentes não deve ser vista apenas como um traço de crenças antigas, mas como expressões simbólicas significativas dentro de um contexto cultural e religioso profundamente marcado por linguagens mitopoéticas. Rudolf Bultmann (1967), um dos principais teólogos existencialistas, propôs o método da "desmitologização" para separar a mensagem essencial do Evangelho dos revestimentos míticos da cosmovisão antiga. Para ele, "o mito é a maneira de pensar do mundo antigo; o Novo Testamento fala em linguagem mítica" (Bultmann, 1967, p. 15). Seu objetivo não era negar os textos sagrados, mas reinterpretá-los à luz da filosofia contemporânea, especialmente do existencialismo de Heidegger.
No entanto, a proposta de Bultmann não foi aceita por todos. Muitos estudiosos apontam que a linguagem mítica, longe de ser um mero enfeite literário ou um obstáculo, é parte fundamental da forma como as comunidades cristãs primitivas vivenciavam e transmitiam a fé. Nesse sentido, o mito não seria uma simples ficção, mas um modo legítimo de transmitir verdades profundas sobre a existência, o sagrado e a salvação.
José Herculano Pires (1984) destaca que os Evangelhos contêm mitos que "não são invenções, mas representações simbólicas da verdade espiritual" (Pires, 1984, p. 89). Para ele, o mito não contradiz a realidade, mas a expressa em outro nível de significado, onde o simbolismo é essencial para traduzir experiências transcendentais. O mesmo é observado em Mircea Eliade, que entende o mito como uma narrativa que remete às origens e serve de paradigma para a conduta humana (Eliade, 2001).
2.2. Evangelhos Apócrifos
Os Evangelhos apócrifos, escritos principalmente entre os séculos II e IV, nos oferecem uma perspectiva alternativa sobre as narrativas bíblicas, expandindo ou reinterpretando os relatos canônicos. Embora tenham sido excluídos do cânon oficial pelas comunidades cristãs ortodoxas, esses textos são cruciais para entender o imaginário religioso e o processo de mitologização em torno de Jesus e de outras divindades. Sua linguagem simbólica, o uso de alegorias e a exploração de temas esotéricos revelam uma dimensão mítica ainda mais acentuada do que a presente nos Evangelhos canônicos.
O Evangelho de Tomé, por exemplo, é uma coleção de 114 logia (ditos atribuídos a Jesus) que não narra à vida de Cristo de forma linear, mas foca no conhecimento espiritual e na iluminação interior. A própria abertura do texto já indica seu caráter iniciático: "Quem encontrar a interpretação dessas palavras não experimentará a morte" (Evangelho de Tomé 1). Essa ênfase na gnose - o conhecimento espiritual como meio de salvação - é uma marca registrada dos textos gnósticos. Para Elaine Pagels (2005), este Evangelho reflete uma tradição cristã mais contemplativa e simbólica, na qual o mito serve como veículo de revelação interior.
O Evangelho de Filipe é outro exemplo do uso do mito para expressar conceitos teológicos e metafísicos. Nele, encontramos a sugestão de uma união especial entre Jesus e Maria Madalena, muitas vezes interpretada não como uma relação conjugal literal, mas como uma alegoria da união entre o Cristo e a alma gnóstica, que busca se reintegrar ao pleroma divino (Plenitude da Divindade). Meyer (2007) interpreta essa união como a expressão de um mito hierogâmico, ou seja, de uma união sagrada que transcende o plano físico e simboliza a integração dos opostos - masculino e feminino, humano e divino.
Outro exemplo importante é o Protoevangelho de Tiago, que narra com riqueza de detalhes o nascimento miraculoso de Maria, mãe de Jesus, sua consagração ao templo e o parto virginal em condições sobrenaturais. Esses relatos, repletos de elementos fabulosos, como anjos, testes mágicos de pureza e luzes celestiais no momento do parto, são típicos da linguagem mítica. Segundo Jean Daniélou (1973), essas tradições surgiram para preencher as lacunas deixadas pelos Evangelhos canônicos e satisfazer a devoção popular com histórias que exaltavam a santidade e a excepcionalidade da família de Jesus.
Muitos desses textos foram considerados heréticos ou perigosos pelas autoridades eclesiásticas, principalmente por trazerem cosmologias alternativas, como as gnósticas, ou por desafiarem a teologia encarnacionista da ortodoxia emergente. No entanto, sua função mítica permanece evidente. Eles não apenas ressignificam o sagrado, mas o expandem, oferecendo novas camadas simbólicas para as figuras de Jesus, Maria e seus seguidores. Como observa Carl Jung (2000), os mitos religiosos funcionam como expressões do inconsciente coletivo, permitindo que comunidades projetem suas esperanças, medos e ideais nas figuras arquetípicas que os textos constroem.
Assim, ao analisarmos os Evangelhos canônicos como documentos que possuem camadas míticas, não estamos negando sua importância histórica ou teológica, mas sim ampliando as possibilidades de interpretação. A crítica ao mito, nesse caso, não busca eliminar seu conteúdo, mas compreender sua função dentro da tradição cristã, reconhecendo que o mito, ao lado da história, contribui para a formação do imaginário religioso.
Por outro lado, os Evangelhos apócrifos revelam uma diversidade de abordagens sobre Jesus, onde o mito não é um erro a ser corrigido, mas uma linguagem legítima para expressar o mistério. Essas narrativas mostram que o processo de mitologização de Jesus não foi exclusivo dos Evangelhos canônicos, mas atravessou toda a tradição cristã primitiva, tanto nas margens quanto no centro de sua formação.
3. CONCLUSÃO
Nossa análise comparativa entre os Evangelhos canônicos e apócrifos, sob a ótica do mito, deixa claro que as narrativas sobre Jesus de Nazaré estão profundamente enraizadas em estruturas simbólicas que vão além do relato histórico. Essas estruturas não devem ser vistas como falsificações ou ilusões, mas como formas legítimas de expressar a experiência do sagrado, da fé e da identidade de uma comunidade.
Nos Evangelhos canônicos, episódios como a concepção virginal, a tentação no deserto, a transfiguração, a ressurreição e a ascensão de Jesus apresentam elementos que, sob o olhar das ciências da religião, da mitologia comparada e da antropologia, funcionam como dispositivos mitopoéticos. Esses elementos não são meros enfeites literários, mas portadores de significados teológicos profundos, que estruturam o imaginário cristão e dão sentido à experiência do divino. Como apontam autores como Eliade (2001), Tillich (2005) e Campbell (1997), o mito comunica realidades e revela paradigmas existenciais que guiam a vida religiosa.
Por sua vez, os Evangelhos apócrifos, embora marginalizados pela ortodoxia cristã, preservam e intensificam essa dimensão mítica. Seus relatos - mais alegóricos, simbólicos e gnósticos - não apenas reimaginam figuras como Jesus e Maria, mas revelam as múltiplas formas de vivenciar e compreender o sagrado nos primeiros séculos do cristianismo. Textos como o Evangelho de Tomé, de Filipe e o Protoevangelho de Tiago resgatam uma cristologia mais interiorizada, contemplativa e simbólica, onde a gnose e a reintegração espiritual substituem a ênfase em milagres históricos ou dogmas fixos. Autores como Pagels (2005), Meyer (2007) e Daniélou (1973) mostram como essas obras refletem uma espiritualidade alternativa, mas profundamente enraizada na linguagem do mito.
Assim, o mito nos Evangelhos, canônicos ou não, desempenha um papel fundamental na formação do cristianismo. Ele estrutura a narrativa, legitima figuras fundadoras, dá sentido à existência e cria uma linguagem capaz de unir o humano ao transcendente. Negar o caráter mítico desses textos seria empobrecer sua potência simbólica e reduzir sua complexidade histórica, literária e espiritual.
Por outro lado, reconhecer essa dimensão mítica não significa invalidar a mensagem evangélica, mas compreendê-la em sua plenitude, como a expressão simbólica de uma verdade espiritual. Nesse sentido, a abordagem hermenêutica de estudiosos como Rudolf Bultmann, Carl Jung e Mircea Eliade se revela não como uma negação da fé, mas como um aprofundamento de seu significado.
Concluímos, portanto, que a presença do mito nas narrativas sobre Jesus não só enriquece a tradição cristã, mas também permite o diálogo entre fé e razão, história e simbolismo, teologia, história e antropologia. O mito, longe de ser um obstáculo, é uma ponte interpretativa entre o passado sagrado e o presente existencial, entre a figura histórica de Jesus e sua projeção arquetípica na consciência religiosa da humanidade. A leitura mítica dos Evangelhos, nesse contexto, não desfaz a fé, mas a reinscreve no horizonte simbólico onde ela nasce, se desenvolve e se perpetua.
Referências Bibliográficas
· ATWILL, Joseph. Caesar’s Messiah: The Roman Conspiracy to Invent Jesus. New York: Ulysses Press, 2005.
· BULTMANN, Rudolf. Jesus Cristo e mitologia. 3. ed. São Paulo: Paulinas, 1967.
· CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. Tradução de Adail Ubirajara Sobral. São Paulo: Cultrix/Pensamento, 1997.
· CHEVITARESE, André L. Jesus histórico: uma breve introdução. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
· CROSSAN, John Dominic. Jesus: uma biografia revolucionária. São Paulo: Paulinas, 2009.
· DANIÉLOU, Jean. Os evangelhos da infância. São Paulo: Paulinas, 1973.
· ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
· JUNG, Carl Gustav. O homem e seus símbolos. São Paulo: Nova Fronteira, 2000.
· LÉVI-STRAUSS, Claude. Mitológicas I: o cru e o cozido. São Paulo: Cosac Naify, 2008.
· MEYER, Marvin. O evangelho de Tomé: os ditos secretos de Jesus. São Paulo: Palas Athena, 2007.
· OTTO, Rudolf. O Sagrado. Tradução de João Augusto Penna. São Paulo: É Realizações, 2017.
· PAGELS, Elaine. Os evangelhos gnósticos. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
· PIRES, José Herculano. O espírito e o tempo. 4. ed. São Paulo: Edicel, 1984.
· TILLICH, Paul. Teologia sistemática. São Leopoldo: Sinodal, 2005.
Por Walter Fontenele | Portalphb









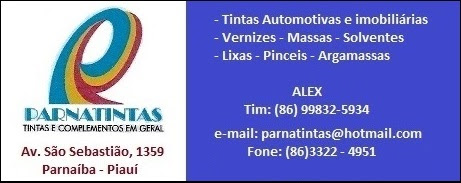





Deixe Seu Comentário