Boi-Bumbá de Parintins: Entre a Tradição, a Modernidade e o Memoricídio
 |
| 📷Bumbódromo © Aguilar Abecassis |
Artigo de Walter Fontenele (Graduado Antropologia -UESPI).
Resumo
O Festival de Boi-Bumbá de Parintins, realizado anualmente no Amazonas, tornou-se uma das mais expressivas manifestações culturais do Brasil, reunindo milhares de espectadores e mobilizando intensamente a economia, o turismo e os meios de comunicação. Com raízes em brincadeiras populares de rua, o festival evoluiu para um espetáculo grandioso, marcado por elementos cênicos sofisticados, alegorias monumentais e disputas intensas entre os bois Garantido e Caprichoso. Este artigo, a partir de uma abordagem antropológica e etnográfica, analisa as transformações do Boi-Bumbá de Parintins e as tensões entre tradição e modernidade, investigando o debate sobre o chamado "Memoricídio" - conceito que problematiza a possível descaracterização das manifestações populares diante da espetacularização. Argumenta-se, por fim, que o festival representa um novo nativismo, no qual tradição e inovação convivem em uma afirmação híbrida da identidade cabocla amazônica.
Palavras-chave: Parintins; Boi-Bumbá; cultura popular; espetáculo; Memoricídio.
1. Introdução
O Boi-Bumbá é uma das manifestações mais tradicionais da cultura popular brasileira, integrando o ciclo festivo das festas juninas e sintetizando elementos do imaginário afro-indígena, ibérico e caboclo. Tradicionalmente encenado nas ruas, o folguedo gira em torno da morte e ressurreição simbólica de um boi, sendo praticado de maneira variada em diferentes regiões do país (CHEVITARESE, 2014). No Norte, particularmente no Amazonas, essa manifestação adquiriu contornos espetaculares com a criação do Festival Folclórico de Parintins, em 1965.
O festival representa um duelo simbólico entre os bois Garantido (vermelho) e Caprichoso (azul), herdeiros de brincadeiras populares iniciadas nas décadas de 1910 e 1920. O que começou como uma disputa entre Bairros foi se transformando, ao longo das décadas, em um espetáculo performático de grandes proporções, com transmissão nacional e recursos tecnológicos sofisticados (TURRINI, 1999). O palco do evento, o Bumbódromo, inaugurado em 1988, é uma arena construída especialmente para a festa, com capacidade para mais de 35 mil espectadores.
Esse processo de transformação, no entanto, tem sido acompanhado por críticas de diversos setores. Um dos conceitos que emergem nesse debate é o de “Memoricídio”, que denuncia o apagamento simbólico das memórias populares em função da espetacularização da cultura. O presente artigo busca investigar esse fenômeno a partir de uma abordagem antropológica, analisando o Festival de Parintins como uma performance ritual e como um campo de disputas entre tradição, identidade e mercado.
2. O Festival de Parintins: História e Consolidação
O Festival Folclórico de Parintins teve sua primeira edição oficial em 1965, mas a rivalidade entre os bois Garantido e Caprichoso é anterior, datando respectivamente de 1913 e 1925, quando eram organizados em brincadeiras comunitárias nos Bairros da Francesa e Urubusal (Caprichoso) e Baixa do São José (Garantido). A ideia de transformar a disputa em festival competitivo foi impulsionada pela Rádio Clube de Parintins e pela necessidade de promover culturalmente a cidade (MONTEIRO, 2008).
Com o tempo, o evento foi incorporando elementos de grandes espetáculos: iluminação cênica, alegorias móveis, sonoplastia, coreografias elaboradas e uma linguagem performática cada vez mais próxima do teatro e do carnaval. A criação do Bumbódromo institucionalizou o evento, que passou a fazer parte do calendário turístico nacional, atraindo patrocinadores e atenção da mídia.
Embora centrado na disputa entre dois bois, o festival é muito mais do que uma competição. Ele envolve dezenas de grupos culturais, movimentos de base, artistas plásticos, costureiras, coreógrafos e comunidades inteiras que se engajam meses antes na construção dos espetáculos (OLIVEN, 2007). O enredo das apresentações é composto por rituais indígenas dramatizados, mitos amazônicos, exaltação da natureza e temas sociais, como a luta por direitos e a preservação ambiental.
3. Tradição e Modernidade: A Tensão do Espetáculo
A crescente profissionalização do festival gerou uma dualidade: por um lado, há um evidente reconhecimento da riqueza artística e simbólica das apresentações; por outro, um questionamento sobre o quanto ainda resta da tradição original do Boi-Bumbá, praticado como brincadeiras de rua. Essa tensão é expressa na crítica ao “espetáculo”, entendido aqui não apenas como forma estética, mas como mercadoria cultural moldada pelas exigências do mercado e da mídia.
De acordo com Canclini (1997), a cultura popular é constantemente tensionada por processos de hibridização, nos quais o tradicional e o moderno se fundem, nem sempre de maneira harmoniosa. No caso de Parintins, essa fusão se traduz na presença de elementos altamente técnicos (como drones, projeções holográficas e efeitos especiais) ao lado de símbolos ancestrais, como o pajé, o tuxaua, a cobra-grande e os rituais de cura indígena.
Para Turino (2005), é necessário compreender o espetáculo como uma linguagem que, longe de negar a tradição, pode recriá-la. O que está em jogo, portanto, não é apenas uma dicotomia entre o autêntico e o artificial, mas uma disputa por sentidos e legitimidades. O Boi-Bumbá, mesmo transformado, ainda funciona como ritual coletivo de afirmação cultural, funcionando como palco de narrativas caboclas e indígenas que resistem à invisibilização histórica.
4. Memoricídio ou Recriação?
O termo “Memoricídio” tem sido utilizado por estudiosos e artistas para descrever a perda simbólica da memória coletiva das manifestações populares, especialmente quando essas expressões passam por processos intensos de espetacularização e institucionalização. Trata-se de uma crítica ao que seria a substituição dos vínculos comunitários, religiosos e espontâneos por elementos estéticos moldados ao gosto do consumo massivo, promovendo uma espécie de “morte cultural consentida” (MENESES, 2007). Nesse contexto, o Boi-Bumbá de Parintins é frequentemente citado como um exemplo emblemático desse deslocamento: aquilo que antes era brincadeira de rua, feita em quintais e espaços comunitários, teria sido absorvido por uma lógica de mercado e transformado em produto cultural.
Esse diagnóstico, contudo, tem gerado controvérsias. Para críticos mais conservadores, o festival teria perdido sua essência, distanciando-se dos rituais religiosos, da oralidade popular e da relação íntima com o território, para se transformar em um espetáculo midiático que privilegia o visual e a grandiosidade em detrimento da espiritualidade e da tradição (TURRINI, 1999). O uso crescente de efeitos tecnológicos, figurinos industrializados e coreografias coreografadas ao estilo de musicais internacionais é apontado como evidência desse processo.
Por outro lado, autores como Stuart Hall (2003) oferecem uma leitura mais complexa e processual da cultura. Para ele, as identidades culturais não são estruturas fixas ou puras, mas sim construções históricas que se reconstroem continuamente em contextos de conflito, negociação e mudança. A cultura não é um relicário a ser preservado intocado, mas um campo dinâmico em que diferentes atores sociais disputam significados e formas de pertencimento. Sob esse ponto de vista, o Festival de Parintins pode ser lido como um exemplo de reelaboração simbólica, no qual as tradições são reconfiguradas para responder aos desafios e possibilidades do mundo contemporâneo.
É importante lembrar, como argumenta Renato Ortiz (1994), que a cultura popular sempre foi permeável a influências externas e a transformações internas. O que se observa em Parintins é uma hibridização (CANCLINI, 1997), na qual o tradicional não é suprimido, mas reinterpretado dentro de novas linguagens e plataformas. O pajé, o tuxaua e os rituais indígenas continuam presentes no festival, mas agora integram uma estética visual que dialoga com o teatro épico, o carnaval, o audiovisual e até com a linguagem dos videogames. Essa ressignificação não deve ser confundida com apagamento, mas pode ser vista como uma estratégia de sobrevivência e visibilidade cultural.
Além disso, é preciso atentar para as formas de agência local que operam no interior dessa transformação. Os próprios artistas, figurinistas, compositores e coreógrafos de Parintins são, em sua maioria, moradores da cidade e profundos conhecedores das tradições locais. Ao mesmo tempo em que inovam esteticamente, esses sujeitos se reconhecem como portadores de uma herança cultural e utilizam a linguagem do espetáculo para reafirmar suas narrativas e disputá-las em um espaço mais amplo. O festival, portanto, não se resume à lógica do mercado - ele é também um palco político e simbólico, onde as comunidades amazônicas dizem quem são e como desejam ser vistas.
A questão central, portanto, não está em negar a transformação, mas em problematizá-la: até que ponto a espetacularização compromete o vínculo comunitário e simbólico da festa? Como a memória é preservada, atualizada ou ressignificada nesse processo? Essas perguntas exigem uma escuta atenta aos sujeitos envolvidos - os brincantes, os artesãos, os mestres da tradição oral, os torcedores dos bois - e não apenas uma análise externa baseada em pressupostos fixos de autenticidade. Como propõe Pierre Nora (1984), a memória não é apenas o que se guarda no passado, mas o que se reinventa no presente. O risco do "Memoricídio" existe, mas sua superação depende de como as comunidades gerenciam a tensão entre preservar e transformar, entre lembrar e criar.
5. Conclusão
O Boi-Bumbá de Parintins é um fenômeno cultural que desafia os binarismos entre tradição e modernidade, autenticidade e espetáculo, memória e inovação. Longe de ser apenas uma festa turística, o festival mobiliza sentidos profundos de pertencimento, resistência e criatividade popular. O debate sobre o “Memoricídio” é legítimo e necessário, pois aponta para os riscos de apagamento simbólico das raízes comunitárias em nome do espetáculo. No entanto, é preciso reconhecer que o festival também representa uma forma de reinvenção cultural, na qual a identidade amazônica é reescrita e performada em diálogo com os tempos atuais.
Mais do que um “fim da tradição”, o Festival de Parintins parece encenar sua permanência por outras vias - por vezes contraditórias, mas não menos potentes. Ao transformar o boi em arte, a brincadeira em espetáculo e a memória em performance, Parintins reinventa o próprio sentido de ser caboclo, amazônico e brasileiro.
Referências
CANCLINI, Néstor García. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: Edusp, 1997.
CHEVITARESE, André Leonardo. História e cultura popular no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2014.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
MENESES, Ulpiano Bezerra de. Tempo e tradição: cultura popular e patrimônio. São Paulo: Hucitec, 2007.
MONTEIRO, Rosilene. Parintins: o espetáculo dos bois-bumbás entre o folclore e a indústria cultural. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 23, n. 66, 2008.
OLIVEN, Ruben George. A parte e o todo: A diversidade cultural no Brasil nação. Petrópolis: Vozes, 2007.
ORTIZ, Renato. Mundialização e cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994.
TURINO, Luiz. Reinvenção da cultura popular. São Paulo: Anita Garibaldi, 2005.
TURRINI, Tânia. O boi-bumbá de Parintins e o jogo da tradição e modernidade. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 13, 1999.
NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História, São Paulo, n. 10, p. 7-28, dez. 1993.
Por Walter Fontenele | Portalphb








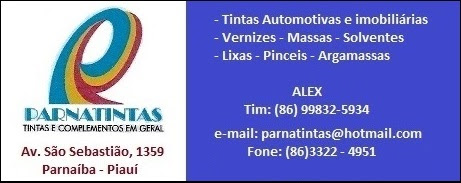





Deixe Seu Comentário