Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba: Histórico de uma Instituição Filantrópica Centenária
 |
| 📷Santa Casa de Parnaíba © Helder Fontenele |
Artigo Científico de Walter Fontenele (Antropólogo - UESPI - 2021).
RESUMO
O artigo reconstrói a história da Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba, instituição filantrópica criada em 1896 como resposta concreta à precariedade dos serviços de saúde e ao avanço de doenças na cidade, num momento de intensas mudanças sociais e econômicas. O texto recupera as raízes das Santas Casas em Portugal e mostra como essa tradição foi reinterpretada no Brasil, sempre ancorada na caridade cristã e na fé como motor da ação social. A pesquisa é qualitativa, baseada em revisão bibliográfica e em conversas informais com pessoas ligadas à história da instituição. O estudo destaca o papel decisivo de Manoel Fernandes de Sá Antunes na criação da Santa Casa de Parnaíba e o envolvimento direto da comunidade e de religiosos locais na sustentação de suas atividades. Também são analisadas as dificuldades financeiras enfrentadas e a pressão por modernização. A Santa Casa aparece aqui não apenas como instituição de saúde, mas como expressão concreta da solidariedade popular e parte viva da memória social e cultural de Parnaíba.
Palavras-chave: Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba, saúde pública, filantropia, história social, patrimônio cultural.
1. INTRODUÇÃO
As instalações das Santas Casas de Misericórdia foram um marco na história das ações de filantropia e serviços hospitalares que surgiram no final do século XV para suprir às necessidades de atendimentos de saúde da população pobre e mais desassistida. Originárias de Portugal, essas instituições tiveram como precursoras iniciativas de confrarias, que foram formadas para ajudar os indigentes. A primeira Santa Casa foi fundada na cidade de Lisboa, em Portugal, no ano de 1498, pela iniciativa da rainha Dona Leonor de Lencastle e do Rei Dom Manuel I, com o apoio do Frei Miguel de Contreras (CARDOZO, 2010).
A instalação da primeira Santa Casa em território brasileiro aconteceu ainda no período colonial, através do português Brás Cuba, no ano de 1542, quando foi iniciada a construção do Hospital de Todos os Santos (CARDOZO, 2010). Todavia, há controvérsias quanto a essa informação. De acordo com Borges (1944), a primeira instituição de Misericórdia a ser instalada no Brasil Colônia foi a da cidade de Olinda, em Pernambuco, no ano de 1540. Porém, segundo Pontes (2000, apud Cardozo, 2010, p. 9), “durante o século XVI já haviam sido fundadas seis Misericórdias no país: Santos, Olinda, Bahia, Vitória do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo”.
Essas divergências refletem a fragilidade dos registros documentais e evidenciam como os marcos fundacionais são interpretados a partir de critérios distintos - ora se considera a formação da confraria, ora o início do funcionamento hospitalar propriamente dito. A disputa entre Olinda (PE) e Santos (SP) ilustra bem esse impasse: enquanto Olinda teria abrigado a primeira confraria de Misericórdia ainda em 1539, com hospital já operando em 1540, é em Santos que se encontra o primeiro registro documental consistente, com obras iniciadas por Brás Cubas em 1542 e formalização reconhecida por alvará régio em 1551. Diante da escassez de fontes sobre Olinda, a historiografia tende a consolidar Santos como marco inaugural da Santa Casa no Brasil, justamente por apresentar documentação mais sólida e respaldo oficial.
As Santas Casas não apenas se consolidaram como instituições de assistência à saúde, mas também desempenharam um papel crucial na organização social das localidades em que foram implantadas. Conforme ressalta Cardozo (2010, p. 12), “a estrutura dessas instituições era composta por setores distintos: o médico-cirúrgico, administrado por médicos; o administrativo, sob a supervisão do Provedor e diretores; e o religioso, a cargo das irmãs de caridade”. Essa divisão de responsabilidades assegurava a eficiência na prestação de serviços, especialmente em um período marcado pela escassez de recursos e pelo desamparo das populações mais vulneráveis.
A cidade de Parnaíba viveu no inicio do século XX um período de grande efervescência comercial marcado pelas exportações de produtos naturais e pelas importações de produtos de primeira necessidade para ser comercializados, principalmente para as famílias abastadas. O grande volume de exportações “desses produtos proporcionou um desenvolvimento econômico, visível pelo florescimento do perímetro urbano e da riqueza arquitetônica de muitas cidades piauienses, a exemplo de Parnaíba”. (SILVA, 2018, apud, ROCHA, 2020, p. 180).
Todavia, junto com as entradas desses produtos provenientes de várias cidades do Brasil e do exterior, também entravam pessoas e doenças (ROCHA, 2010, p. 182), das mais variadas, sendo de extrema urgência a instalação de instituições de serviços de saúde. Com o sinal de alerta ligado, os governantes da época criaram várias estratégias, sendo uma delas “se livrar das classes perigosas e expulsá-las dos centros urbanos, bem como encaminhá-las às instituições de tratamentos para torná-las sujeitos sãos”. (CHALHOUB, 1996, apud, ROCHA, 2020, p. 182). Para Sanglard (2006), do final do século XIX para o inicio do século XX as instituições de saúde passam a trabalhar mais com a cura das doenças das pessoas, do que propriamente com as ações de caridade. Segundo Rocha (2020),
No início do século XX, alguns elementos foram encarados como ameaça à ordem da sociedade parnaibana, podemos destacar, dentre eles, o perigo que o pobre doente emanava para sociedade. Os problemas de saúde da cidade influenciaram diretamente na criação da Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba e, durante muitos anos, esse hospital foi o único responsável pelo tratamento dos enfermos. (ROCHA, 2020, p. 182).
Com o tempo, a Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba deixou de ser apenas um reflexo das tensões entre caridade, controle social e política de saúde; ela passou a simbolizar, na prática, o modo como à cidade aprendeu a lidar com a dor dos mais necessitados. A presença constante de doentes pobres nas ruas, vista pelas autoridades como ameaça à ordem, acabou servindo de justificativa para a criação de instituições que, mais do que curar, também funcionavam como filtros sociais. Nesse emaranhado de interesses públicos e privados, o hospital se sustentou entre o auxílio estatal e a precariedade estrutural, mantendo-se como peça central de um sistema que ainda hoje é atravessado por contradições.
Para compreender como essa história se articula com os caminhos escolhidos, passamos agora à apresentação da metodologia adotada.
1.1. Abordagem Metodológica
Este estudo trabalha com uma pesquisa com abordagem qualitativa que segundo Denzin e Lincoln (2006, p.17), é “um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo”. Essa metodologia, sobretudo, compreende o "outro" - o entrevistado - e os eventos que envolvem o objeto de investigação. A pesquisa qualitativa adota ainda uma perspectiva naturalista e interpretativa, na qual os pesquisadores examinam as preferências em seus contextos reais, buscando entender ou interpretar essas características com base nos significados que as pessoas lhes atribuem.
As leituras de obras de historiadores ofereceram a base documental e teórica para a realização da pesquisa, que segundo Lakatos e Marconi (2010, p.139), são essenciais para construir uma revisão de literatura sólida e “oferecer ao pesquisador uma visão critica e abrangente do que já foi produzido sobre o tema”. Esse processo de revisão, além de contextualizar a pesquisa, possibilita o diálogo entre diferentes perspectivas e interpretações históricas, dando à investigação um suporte embasado que reforça a sua credibilidade e consistência. Além disso, as entrevistas informais são recursos metodológicos que enriquecem a pesquisa qualitativa, ao trazer a perspectiva dos atores sociais diretamente envolvidos no contexto ou tradição estudada.
Este estudo é composto por três capítulos, organizados da seguinte forma:
No primeiro capítulo, apresenta-se uma introdução sobre as instalações das primeiras Santas Casas na Europa e no Brasil Colônia, além da descrição completa da metodologia utilizada;
No segundo capítulo, entraremos diretamente no tema central da pesquisa, a Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba, com seus provedores e suas particularidades.
No terceiro e último apresentaremos as considerações finais.
2. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARNAÍBA
A fundação da Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba surgiu como uma resposta humanitária e solidária a um momento de intensa transformação social vivida pela cidade. Com a abolição da escravidão, a liberdade conquistada trouxe consigo desafios que a sociedade da época não estava preparada para enfrentar. (ATHAYDE, 1984). Muitos libertos, sem acesso a recursos básicos ou oportunidades de trabalho, acabaram marginalizados, vivendo em condições precárias que os expunham a doenças e outros males sociais. Esse cenário agravava a saúde pública, tornando urgente a criação de um espaço para acolher e cuidar dos mais vulneráveis.
Nesse período, Parnaíba enfrentava um quadro alarmante: pessoas adoecidas e abandonadas se acumulavam nas ruas, desamparadas e sem acesso a tratamento médico adequado. Além disso, o fluxo constante de embarcações e a chegada de indivíduos de diferentes regiões contribuíam para a propagação de doenças contagiosas, criando focos de infecção que ameaçavam toda a população. Essa situação caótica evidenciava a fragilidade das estruturas sociais e a necessidade de uma iniciativa que trouxesse dignidade e cuidado aos que mais necessitavam. (ATHAYDE, 1984).
Foi nesse contexto social que lideranças locais decidiram agir. A criação da Santa Casa de Misericórdia foi um gesto de compaixão e responsabilidade coletiva, com o objetivo de oferecer um refúgio seguro e tratamento para aqueles que padeciam nas ruas. Segundo Athayde (1984),
Tomado de grande entusiasmo e arrimado ainda nos exemplos dos hospitais congênere de Santos, fundado por Brás Cuba, de São Paulo, fundado pelo Padre Manuel da Nobrega e no Rio de Janeiro, fundado pelo Padre José de Anchieta, Manoel Fernandes de Sá Antunes, resolveu levantar uma campanha comunitária em sua terra, para que na mesma, se fundasse uma Misericórdia, usando para tanto, uma adaptação estatutária colhida dos estatutos das três Misericórdias acima referida. (ATHAYDE, 1984, p. 11,12).
Manoel Fernandes de Sá Antunes, consciente da importância de unir esforços para garantir o sucesso de sua missão, percebeu que a sobrevivência e a segurança da instituição que idealizava dependiam do envolvimento de toda a comunidade de Parnaíba, pois, acreditava ele, que somente com a participação de todos os cidadãos seria possível construir algo duradouro e significativo. Assim, convocou as principais lideranças locais, buscando inspirá-las a abraçar a causa e a compartilhar a responsabilidade de fundar uma entidade que se tornaria símbolo de cuidado e solidariedade. Foi com esse espírito de união e “inspirado nos ideais filantrópicos da princesa D. Leonor de Portugal e do frade espanhol Frei Miguel de Contreras” (ATHAYDE, 1984, p. 12) que, no dia 26 de abril de 1896, Manoel Fernandes de Sá Antunes deu vida à Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba. Segundo Azevedo (1969), o nome da instituição simbolizaria a acolhida da mãe de Deus que “com seus braços abertos estaria sinalizando um ato de caridade ao acolher a todos debaixo de seu manto”. (CARDOZO, 2010, p. 14).
A Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba insere-se na tradição filantrópica e assistencial, destacando-se pela sua fundação no final do século XIX, mais precisamente em 26 de abril de 1896. A fundação da Santa Casa foi idealizada pelo juiz Federal Dr. Manuel Fernandes de Sá Antunes, natural de Parnaíba, que vislumbrou a necessidade de um hospital para atender à crescente demanda por serviços de saúde, especialmente devido às precárias condições sanitárias e ao aumento da população vulnerável nas vizinhanças do Porto das Barcas. (ATHAYDE, 1984). De acordo com o Marques (2017),
A Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba, instituição particular, foi fundada nesta cidade por feliz iniciativa do nosso ilustre conterrâneo Dr. Manuel Fernandes de Sá Antunes e apoio unânime das principais figuras parnaibanas, e tendo como fim fundamental de cuidar dos doentes carentes de recursos, indigentes abandonados e com atividade num plano de assistência social relevante. Em assembleia geral do dia 26 do mesmo mês e ano ficou sob os auspícios duma confraria de número limitado que na ocasião teve aprovado o compromisso ou Estatuto, redigido pelo próprio Dr. Manuel Fernandes de Sá Antunes com o título de Compromisso da Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba. (MARQUES, 2017, p. 675).
Nesse mesmo dia, foi constituída a primeira Mesa Administrativa que representou uma força coletiva em prol da instituição, sendo formada por várias figuras ilustres da sociedade parnaibana da época: Paul Robert Singlehurst, apelidado pelos piauienses de “Paulo Inglês” (Provedor), Luiz Antônio de Moraes Correia (Vice-Provedor), Antônio José Tavares (Secretário), José Alves de Seixas Pereira (Subsecretário), Antônio Martins Ribeiro (Tesoureiro), Dr. Manuel Fernandes de Sá Antunes (Procurador Geral), Joaquim Antônio dos Santos, Joaquim Antônio de Amorim Filho, Egídio O. Porphiro da Motta, Manuel Fernandes Marques, Josias Benedicto de Moraes, Francisco José de Seixas, José da Silva Ramos Filho e Francisco de Moraes Correia (Administradores). Segundo ainda o cronista do Almanaque da Parnaíba (1929),
A referida mesa, em continuada sucessões, regia-se pelo compromisso aprovado e publicado em folheto, o qual permaneceu em vigor até 26 de Março de 1922, quando foram discutidos, votados em assembleia geral os estatutos definitivos pelos quais a Santa Casa de Misericórdia ficou legalmente organizada, sendo os mesmos estatutos devidamente registrados aqui e na capital do Estado do Piauí, para todos os efeitos de direitos. (MARQUES, 2017, p. 675).
Inicialmente, a instituição funcionou em prédios que foram cedidos por Geracinda Tavares de Carvalho e Silva, localizados nas ruas Duque de Caxias e Afonso Viceu, hoje Avenida Presidente Getúlio Vargas. Mais tarde, a sede foi transferida para prédios situados nas ruas Conde D’Eu e Coronel Pacífico, pertencentes à Filomena Fernandes Castelo Branco, viúva do Coronel Pacifico da Silva Castelo Branco. “O local era residência e fazenda do Cel. Pacífico, tendo ai sua senzala e curral de gado, em que hoje se encontra a Praça Antônio do Monte”. Estes prédios foram posteriormente adquiridos pela quantia 12.000$000 (Doze Mil Contos de Reis), conforme escritura pública 12.03.1909. (MARQUES, 2017, p. 675).
Uma das primeiras dificuldades da recém-inaugurada Santa Casa de Misericórdia foi à falta de pessoas para assumir a responsabilidade de cuidar dos enfermos. Naquela época, em Parnaíba, havia apenas uma pessoa qualificada para o tratamento de moléstias: “Joaquim Eduardo da Costa Sampaio” (FERREIRA, 2023, p.33), conhecido como Dr. Sampaio. No entanto, devido à sua idade avançada (73 anos) ele não tinha condições físicas de assumir a responsabilidade, especialmente em um período em que o número de enfermos crescia de forma exponencial. Destarte, a sociedade parnaibana resolveu custear os estudos e enviar João Maria Marques Bastos (Joca Bastos) a “Faculdade de Medicina da Bahia que, depois de seis anos, retornou a sua cidade natal para assumir o cargo de Diretor-Médico da instituição, com um salário de 200&000 (duzentos mil reis) mensais” (ATHAYDE, 1984, p. 14).
Todavia, essa narrativa controversa de Athayde (1984), de que os estudos do Dr. Joca Bastos foram custeados pela sociedade parnaibana da época, é contestada por Renato Neves Marques, bisneto do Dr. Joca Bastos. Segundo ele, no testamento de Paulino José Coelho Bastos (25 de Setembro de 1892), pai do Dr. Joca Bastos, existe o registro de uma dívida contraída junto ao seu outro filho, José Thomas, para custear as despesas da formatura do Dr. Joca Bastos. (FERREIRA, 2023, p. 37). Segundo o documento,
[...] e ter com eles gasto bastante, mormente João, por causa de sua formatura em medicina no que muito me auxiliou meu bom filho, José Thomaz, com empréstimos de dinheiro seu, às vezes, para ocorrer às despesas na Bahia (cujas quantias ainda não pude pagar-lhe) pelo o que deverá aquele irmão formado ser grato amigo deste toda vida confessando que a não ser este auxilio, me veria em apertos por acudir pontualmente àquelas despesas. (MARQUES, 2017, p. 586).
Reforçando essa argumentação, Marques (2017, p. 586) relata que o Dr. Joca Bastos concluiu seu curso de medicina em 23 de Dezembro de 1885, ou seja, 11 anos antes da fundação da Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba.
Nos primeiros meses de funcionamento, a Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba contava com apenas duas pessoas para o atendimento aos enfermos, “uma mulher denominada “criada” e um homem conhecido como “criado”, onde a primeira cuidava das mulheres e o segundo dos homens, ambos com mesma carga horária, porém, este ganhava o dobro da primeira”. (CARDOZO, 2010, p. 16). Segundo José Jhonys Ferreira,
Nesse período duas pessoas trabalharam na instituição: um homem, que recebia um salário de 20$000 (vinte mil réis) e uma mulher que ganhava 10$000 (dez mil réis). O único médico da cidade era o Dr. Joaquim Sampaio, mas não teria sido integrado aos planos da instituição porque se encontrava em idade avançada (73 anos de idade). (FERREIRA, 2023, p. 40).
Nessa mesma época, no ano de 1905, o Dr. Joca Bastos assumiu seu cargo de Diretor-Médico na Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba, percebendo um salário mensal de 200$000 (duzentos mil réis), ou seja, dezenove vezes maior que a funcionária que exercia o cargo de criada e nove vezes mais do que o homem que trabalhava de criado. (FERREIRA, 2023, p. 41).
A análise do livro Histórico: Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba, de Athayde (1984), revela um ponto de tensão entre narrativa memorialista e documentação oficial. Ao tratar do fechamento do hospital, o autor atribui o episódio a uma suposta “crise”, sem detalhar a natureza do problema. O próprio título do capítulo, “A primeira crise”, reforça essa interpretação subjetiva.
Apesar de todos esses esforços, a Santa Casa entrou em crise no ano de 1905, tendo como consequência a redução de suas atividades, agravada pela retirada de sua Direção médica do Dr. Joca Basto, o qual, alegando a falta de pagamento de seus honorários, passou a desenvolver as suas atividades somente junto à sua clientela particular e às suas tarefas de encarregado da saúde do Porto. Em 1915 foi desativada, por falta de recursos, grande parte do Hospital, restando, apenas um paciente em sua enfermaria de homens, que, em estado muito grave não poderia ser removido. Para atendê-lo foi designada excepcionalmente a enfermeira D. Olivia de Figueiredo, o que fez espontânea e gratuitamente. (ATHAYDE, 1984, p.17).
Todavia, de acordo com Rocha (2025),
Não é certo se, realmente, o prédio foi assolado por crise econômica, já que, no livro de registro de entrada e saída de pacientes, a informação que consta é a de o espaço estava fechado devido às reformas [...] (ROCHA, 2025 p.11).
Segundo ainda Athayde (1984, p.17), Em Novembro de 1915 a Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba continuou com a prestação de serviços às pessoas mais carente da região, graças a D. Almerinda Tavares Nunes, esposa de Manoel Fernandes Sá Antunes, no valor 6000$000 (seiscentos mil réis), doação realizada pela “Diretora do Colégio Anglo Americano, Miss Hull, a qual obteve esses recursos, como contribuição de seus alunos, já naquela época preocupados com os flagelos da seca e da miséria do Nordeste”.
A data da reabertura (1915) informada por Athayde (1984) não é consenso na historiografia. Segundo Rego (2013), a Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba só retornou suas atividades depois da primeira crise no ano de 1917, graças ao Governo do estado e doações de pessoas abastadas de Parnaíba.
A melhoria nas condições da instituição tornou-se perceptível a partir de uma série de transformações estruturais e administrativas. Segundo o provedor Delbão Rodrigues, a instituição voltou a funcionar em um prédio em bom estado de conservação, após a conclusão das obras de um novo pavilhão, que passou a abrigar uma sala de operações, um gabinete para consultas médicas e um consultório odontológico (REGO, 2013).
A mobilização social também foi determinante: festas beneficentes, partidas de futebol e sessões de cinema passaram a ser organizadas com a finalidade específica de arrecadar fundos. A essas ações se somaram doações espontâneas da comunidade, consolidando um esforço coletivo para a manutenção da instituição (PIAUHY, 1989, p. 181-182).
Apesar da mobilização social e dos aportes financeiros destinados à reestruturação da Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba, os esforços não se traduziram em estabilidade no funcionamento dos serviços de saúde nos anos que se seguiram à reabertura. Os dados disponíveis indicam uma queda progressiva no número de internações. Entre Abril de 1923 e Abril de 1924, foram registrados 370 pacientes. No período seguinte, de Abril de 1924 a Abril de 1925, esse número caiu para 293. Entre Abril de 1925 e Março de 1926, 191 internações foram registradas. “De 1º de abril de 1926 a 15 de abril de 1927, o hospital atendeu 212 doentes. Já entre 16 de abril de 1927 e 15 de abril de 1928, foram apenas 142”. (PIAUHY, 1928, p. 182). Os números demonstram, de forma objetiva, o declínio da capacidade assistencial da instituição, mesmo após o esforço coletivo por sua reativação.
A redução no número de pacientes parece refletir não apenas uma menor procura, mas também a limitação da própria Santa Casa em manter sua função assistencial de forma ampla e constante. Nesse contexto, a instituição passou a operar de maneira intermitente, dependendo de doações pontuais e da boa vontade de setores específicos da sociedade local, sem garantia de sustentabilidade em longo prazo.
A trajetória da Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba reflete a essência das Santas Casas no Brasil: uma união entre iniciativa privada, esforço comunitário e inspiração religiosa para atender aos mais necessitados. Desde sua fundação até os dias atuais, ela simboliza a luta por dignidade e saúde, enfrentando desafios com resiliência e inovação. É uma prova de que o altruísmo e a organização podem transformar realidades e deixar um legado duradouro na história de uma cidade.
À medida que a população de Parnaíba crescia e os desafios aumentavam, a Santa Casa precisou expandir seus serviços e modernizar suas instalações. O hospital enfrentou barreiras logísticas e financeiras para acompanhar a demanda, mas o espírito de inovação e a determinação de seus gestores e apoiadores mantiveram a instituição em constante evolução.
Atualmente, a Santa Casa de Parnaíba continua a ser um equipamento do sistema de saúde de Parnaíba. Sua história de luta, resistência e perseverança é um testemunho de como a união entre valores filantrópicos e gestão eficiente pode transformar realidades e promover o bem-estar coletivo. Enquanto símbolo de resistência e serviço à comunidade, a instituição segue como um exemplo a ser celebrado e apoiado, mantendo viva a memória e a essência das Misericórdias que marcaram a história do Brasil.
3. Considerações Finais
A trajetória e o legado da Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba ultrapassam a função assistencial e se inscreve na reorganização das estruturas sociais e urbanas da cidade. Fundada em 1896 com iniciativa do juiz Federal Manuel Fernandes de Sá Antunes, a instituição operou dentro dos moldes tradicionais das Misericórdias, ancorada nos princípios de caridade e assistência aos pobres. Ao longo do tempo, manteve-se ativa em meio a crises e descontinuidades, sustentada por articulações locais. A participação de médicos, comerciantes e membros da elite parnaibana foi decisiva para sua sobrevivência. Nomes como Antônio do Monte Furtado e Dr. Joca Basto não apenas representaram a liderança da época, mas também canalizaram recursos e prestígio para manter a instituição operante. A Santa Casa consolidou-se, assim, como espaço de mediação entre carência social e poder local, refletindo os limites e as estratégias de sustentação da saúde pública no interior do Piauí. (ATHAYDE, 1984).
A análise documental e comparativa entre fontes oficiais e narrativas memorialistas permitiu expor tensões e contradições na construção histórica da instituição. Momentos de paralisação atribuídos genericamente a “crises” revelam, na verdade, dinâmicas mais complexas envolvendo reformas físicas, disputas políticas e estratégias de reposicionamento institucional. Essa leitura crítica desmonta versões simplificadas do passado e contribui para a valorização de fontes primárias na reconstituição da memória local.
Por fim, compreender o percurso da Santa Casa de Parnaíba não é apenas resgatar um capítulo da história da saúde no Piauí, mas reconhecer como instituições filantrópicas funcionaram - e ainda funcionam - como arenas de negociação entre o poder público, a iniciativa privada e a população desassistida. Em tempos em que o debate sobre a saúde pública volta ao centro das atenções, revisitar experiências como essa se torna não só pertinente, mas necessário.
Referências Bibliográficas
390 ZAHUR (1985), apud SILVA, Geovana. Assistência e poder: os provedores da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Revista Em Debate. Rio de Janeiro-RJ: Pontifícia Universidade Católica/RJ. N. 08, 2008, s/p. 391 Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba, 1922, op. cit., p. 18. 392 Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba, 1922, op. cit., p. 17.
ABREU, M. G. Misericórdias brasileiras e sua contribuição à saúde pública. São Paulo: Editora Saúde & Sociedade, 2001.
ANDRADE, J. L. História das Misericórdias em Portugal e no Brasil. Lisboa: Edições Lusitanas, 1996.
ANDRADE, Wilma T. F. Conexões da História de Santos e Portugal. Leopoldinaum. 1996.
ATHAYDE, Cândido de Almeida. A Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba: Fundamentos e Trajetórias. Parnaíba: Editora Piauiense, 1996.
AZEVEDO, Antônio Carlos. Simbologia e Fé nas Misericórdias: Uma Tradição Luso-brasileira. Rio de Janeiro: Livros da Fé, 1969.
AZEVEDO, Manuel Duarte Moreira de. O Rio de Janeiro: suas histórias, monumentos, homens notáveis, usos e curiosidade. Rio de Janeiro: livraria brasiliana editora, 1969.
BORGES, Luiz Francisco. A Primeira Santa Casa do Brasil: Olinda e seus Pioneiros. Recife: Editora Regional, 1994.
CARDOZO, Antônia Maria Araújo. Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba: entre interesses comerciais e sociais (1896-1932). 2010. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura Plena em História) – Universidade Estadual do Piauí, Parnaíba, 2010. Orientadora: M.Sc. Maria Angélica Costa Tourinho.
CARTÓRIO ALMENDRA. Registro da Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba. Parnaíba: Arquivo Público, 1946.
CHALHOUB, S. Cidade Febril cortiços e epidemias na Corte Imperial. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.
Ferreira, José Jhonys. Um espaço para os leprosos : planejamento, edificação e funcionamento do Leprosário São Lázaro e da Colônia do Carpina (Parnaíba - PI) : 1928-1944 / José Jhonys Ferreira. - Natal, 2024.
FRANCO, João Pedro. Misericórdias e a Expansão do Cristianismo no Renascimento. Lisboa: Editora Cristã, 1951.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MARINHO, Joseanne. A interiorização da saúde no Piauí: Parnaíba entre o fim do século XIX e meados do século XX. Revista NUPEM, Campo Mourão, v. 13, n. 29, p. 175-191, 2021.
MARQUES, Renato Neves. Cronologia da história da Parnaíba. São Paulo: PerSe Editora, 2017.
PIAUHY. Diretoria de Saúde Pública. Relatório anual das atividades da Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba (Abril de 1927 a Abril de 1928). Parnaíba: Tipografia Parnaibana, 1928.
PIAUHY. Diretoria de Saúde Pública. Relatório apresentado por Delbão Rodrigues, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba, sobre as atividades realizadas no anno de 1917. In: PIAUHY. Caixa de Saúde de 1917. Therezina: [s.I.], 1918.
PONTE, José A. da. As Santas Casas no Brasil Colonial: Disputas e Contribuições. Salvador: Editora do Saber, 2000.
PONTES, J. L. 500 Anos de Brasil e Misericórdias. Em pauta: Santa Saúde, D. F. Ano oi, no. 01.2000.
ROCHA, Aleisa de Sousa Carvalho. Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba: atuação e assistência aos corpos acometidos por doenças (1914‑1924). Revista Vozes, Pretérito & Devir, v. 7, n. 1, UESPI, 2025. Artigo disponível em: revista Vozes, Pretérito & Devir
ROCHA, Aleisa. Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba: Atuação e assistência aos corpos acometidos por doenças. (1914-1924). Vozes, Pretérito & Devir, Teresina, v. XI, n. 11, ed. 11, p. 178-197, 2020.
SANGLARD, G. A construção dos espaços de cura no Brasil: entre a caridade e a medicalização. Esboços. Revista do Programa de Pós-graduação em História da UFSC, Florianópolis, v.13, n.16. 2006
SANTOS, Manuel. Hospitais de Todos os Santos: Um Legado de Caridade. Porto: Editora Histórica, 1986.
SILVA, A. W. dos S. A pobreza urbana em Parnaíba, Piauí (1890-1920) Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Humanidades, Programa de PósGraduação em História, Fortaleza, 2018.
ZAITUR, Miguel. Estatutos das Misericórdias: Fundamentos e Regulações Históricas. Coimbra: Editora Jurídica, 1985.










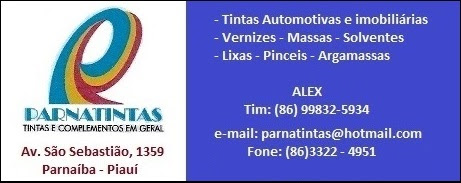





Deixe Seu Comentário